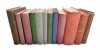A Enfermagem deteve no século XX autonomia e regulamentação próprias. Caracteriza-se como uma profissão que na área da saúde tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível [1].
Já por seu lado, e de acordo com a visão ocidental, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é considerada como um sistema de sensações e descobertas destinadas a estabelecer um estado vegetativo funcional do corpo. Este estado pode ser tratado pelas diversas técnicas nomeadamente, Acupunctura, Terapia Manual Chinesa (Tuina), Fitoterapia, Qigong ou Dietética [2].
A compreensão contemporânea da MTC, segundo o Modelo de Heidelberg (MH), considera-a um modelo tradicional de sistemas de biologia. Este modelo centra-se no facto de que os principais termos técnicos como Yin e Yang, fases ou elementos podem ser entendidos como termos de regulação vegetativa sendo o diagnóstico em MTC entendido como uma descrição detalhada do estado vegetativo funcional de um paciente [3].
Um princípio básico é que se tratam pessoas e não doenças, o diagnóstico é o seu princípio fundamental e antes da aplicação de qualquer técnica deve ser feita uma avaliação correta do individuo, pois o que é eficaz num caso pode falhar noutro [4].
Segundo o MH, o diagnóstico funcional é estabelecido atendendo a 4 componentes: a constituição (natureza interna do paciente), fatores patogénicos (quais os fatores que afetam o paciente), orbs afetados (sinais e sintomas manifestos) e respetivos critérios guia, também entendidos como indicadores do atual estado funcional (sinais neurovegetativos, humoro-vegetativos, neuro-imunológicos e presença de uma deficiência estrutural ou regulatória).
Cuidados centrados na visão holística da pessoa
A prestação de cuidados de Enfermagem pode ser complementada, alargada e enriquecida pelos conhecimentos da MTC. Estamos perante duas ciências que centram a sua esfera de cuidados na visão holística da pessoa, como ser único em interação constante com tudo o que o rodeia, requerendo um cuidado personalizado de acordo com o seu quadro clinico.
A recomendação de implementação de técnicas da MTC parte da própria Organização Mundial de Saúde e é crescente o número de estudos científicos que evidenciam a sua eficácia e natureza vegetativa, com base em parâmetros fisicamente mensuráveis e nos quais são incluídos diagnósticos ocidentais e de MTC [5, 6, 7].
As técnicas de MTC podem ser utilizadas pelos enfermeiros no âmbito das suas intervenções interdependentes e autónomas, algumas inclusive são contempladas na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Os conhecimentos e técnicas de MTC podem facilmente ser englobados nas intervenções de Enfermagem beneficiando, por exemplo, a promoção de trocas gasosas, a perfusão dos tecidos e alívio da dor, contribuindo para o bem- estar físico e psicológico.
A área de atuação da MTC é vasta, como por exemplo no controlo de sinais e sintomas no pré e pós-operatório como a ansiedade, dor, incluindo dor fantasma, náuseas e vómitos, indução anestésica em pequenas cirurgias, diminuição dos efeitos secundários e/ ou interações medicamentosas, quer reduzindo a utilização de alguns medicamentos, quer atuando no órgão ou sistema afetado de forma a protege-lo [4].
A prática da MTC foi recentemente regulamentada em Portugal pela Lei 71/2013 (Lei das Terapêuticas Não Convencionais), aprovada a 24 de Julho de 2013, que remete para a Lei 45/2003 (Lei de Enquadramento das Terapêuticas Não Convencionais).
Formação em Enfermagem com terapias não convencionais
A formação em enfermagem cada vez mais deve ser reformulada para responder às novas exigências dos sistemas de saúde, integrando as terapias não convencionais e a base científica das práticas mais adequadas á filosofia de cuidados de saúde para o século XXI. Precisamos de alargar horizontes e diversificar os percursos, assumir com coragem os desafios da mudança, refletindo sobre a validade científica das terapias complementares e sua integração na comunidade escolar, favorecendo assim um novo olhar sobre a formação e prática em enfermagem.
Susana M. F. Seca
Cédula Profissional, membro nº 2- E- 53713, Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Coimbra - Portugal, Heidelberg School of Chinese Medicine, Heidelberg - Alemanha
Referências Bibliográficas:
1 http://www.ordemenfermeiros.pt/sites/sul/membros/Documentos/Legisla%C3%A7%C3%A3o/REPE.pdf [consultado em 9/03/2013]
2 Greten HJ. Understanding TCM. Scientific Chinese Medicine – The Heidelberg Model. Heidelberg: Heidelberg School Editions, 5ª ed. 2011. ISBN 978-3-939087-07-6
3 Greten HJ. Understanding TCM. Heidelberg: Heidelberg School Editions. 2007
4 Santos TS. Opinião dos alunos do 4º ano acerca da integração da Medicina Tradicional Chinesa no plano curricular do curso de Licenciatura em Enfermagem. Porto: Universidade Fernando Pessoa, faculdade de Ciências da Saúde, 2011: 34- 36
5 Seca, S. Efeitos Agudos da Acupunctura na Dor Lombar Crónica, Estudo Prospectivo, Randomizado, Controlado e Cego. Porto: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 2011
6 Doenitz C.; Anjos, A.; Efferth T.; Greten T.; Greten H. Can Heat and cold be parameterizes? Clinical data of a preliminar study. Jornal of Chinese Integrative Medicine, Vol. 10, Nº5, May 2012: 532 - 537
7 Matos, L.; Gonçalves M.; Silva A.; Mendes J.; Machado J.; Greten H. Assessment of Qigong- related effects by infrared thermography: a case study. Jornal of Chinese Integrative Medicine, Vol. 10, Nº6, June 2012: 663 - 666
8 Cruz, MS. Medicina Chinesa – Contributos para a prática de Enfermagem. Porto: Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, 2008: 34 – 35